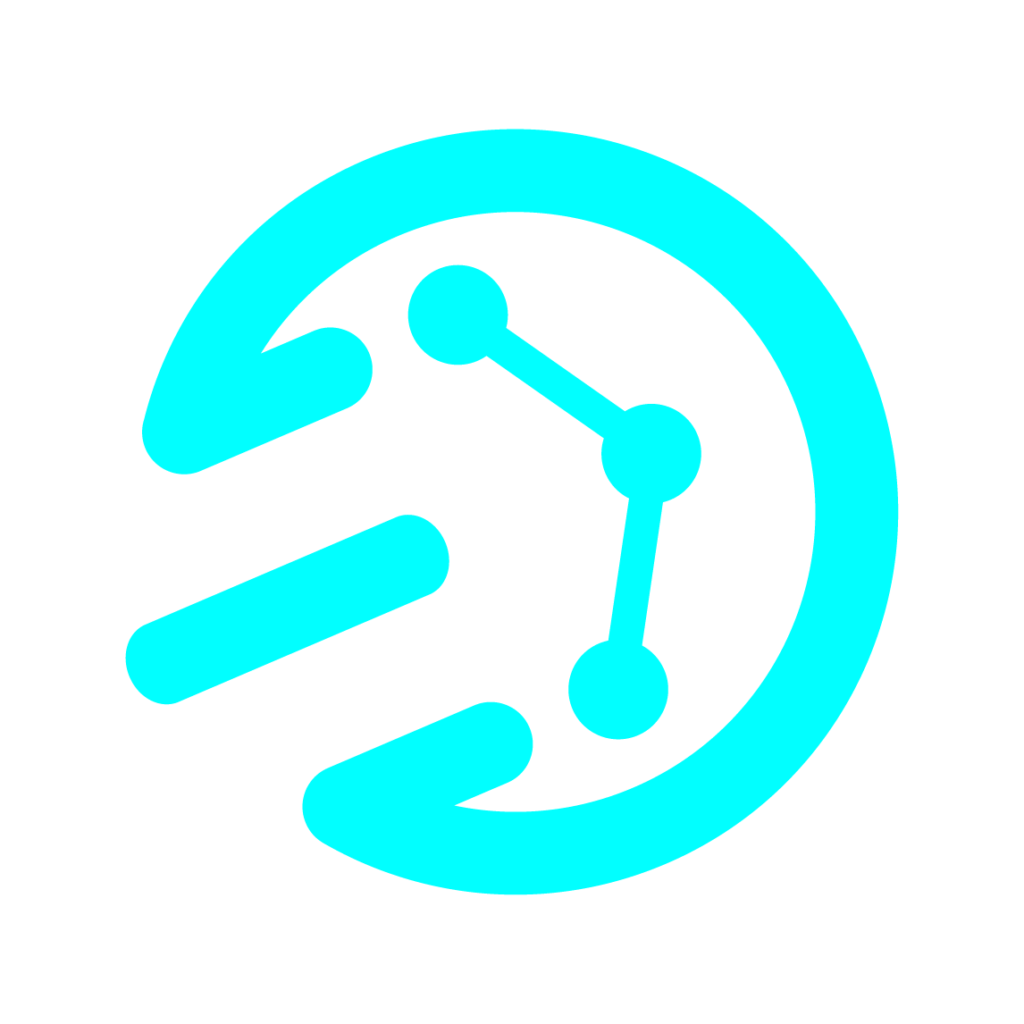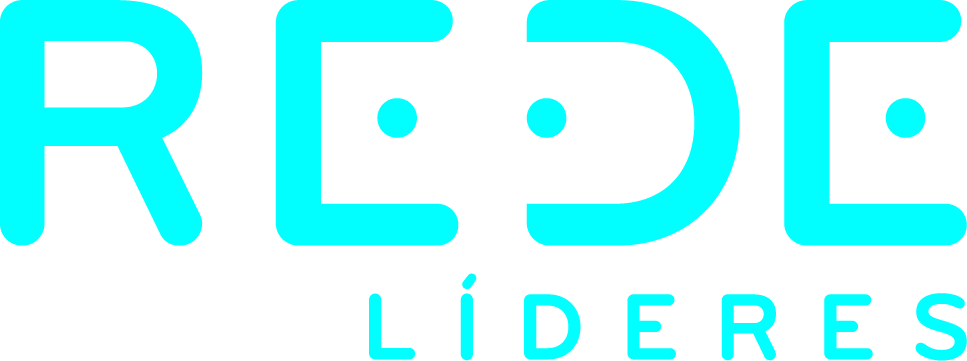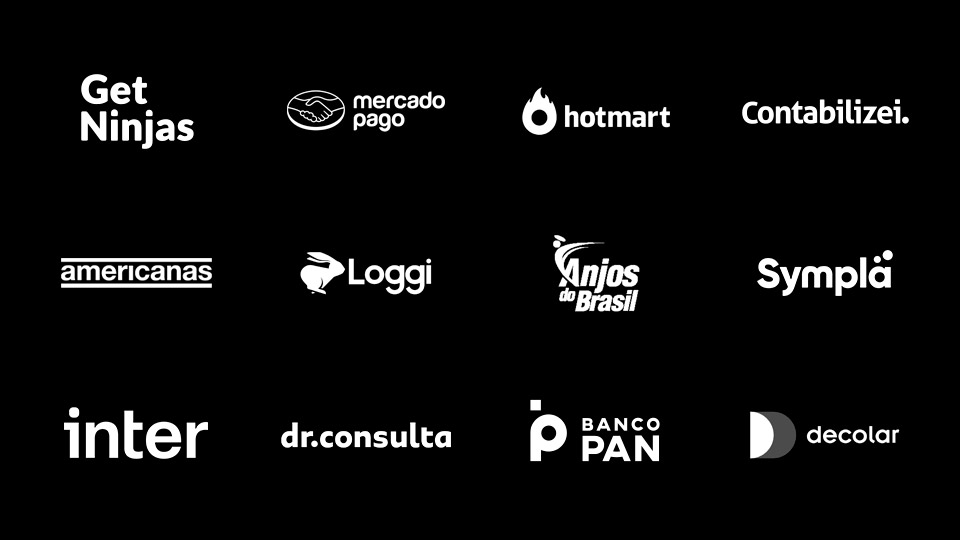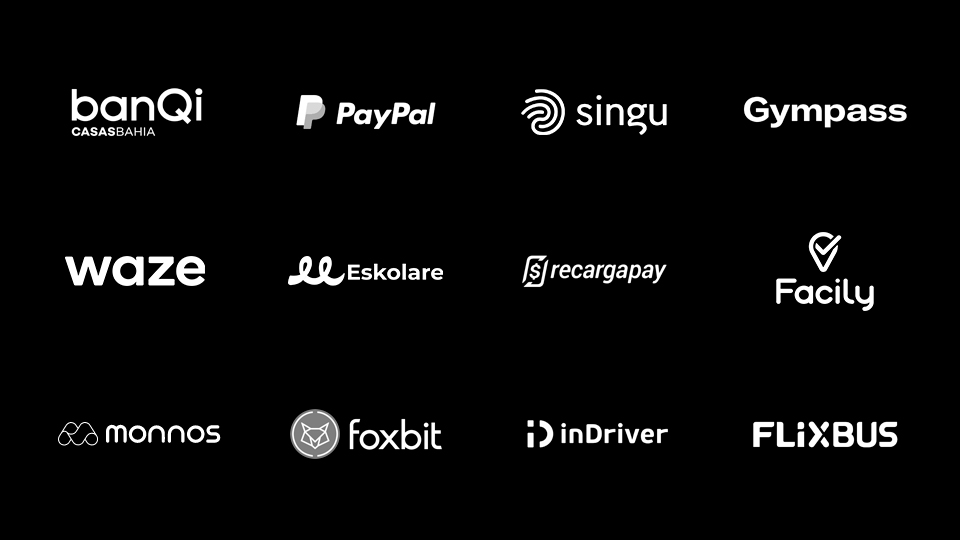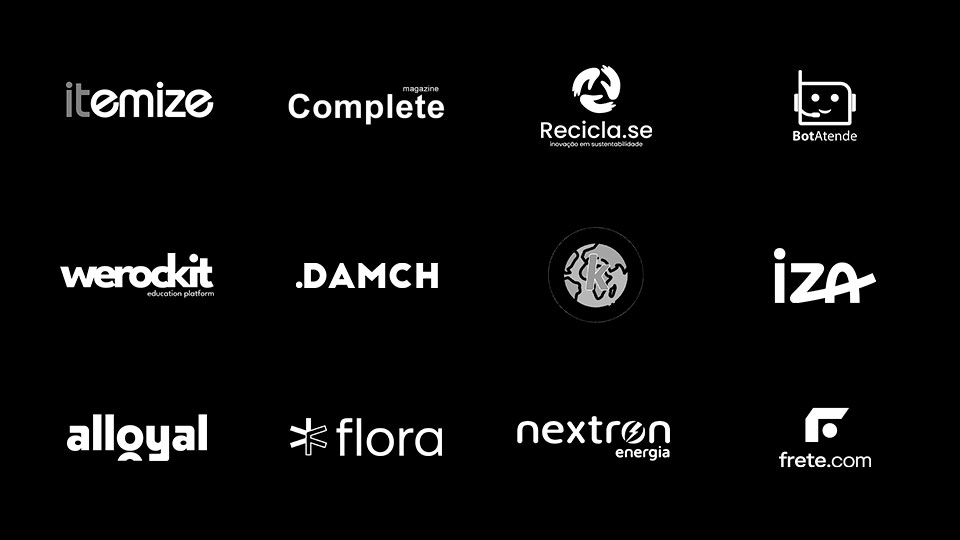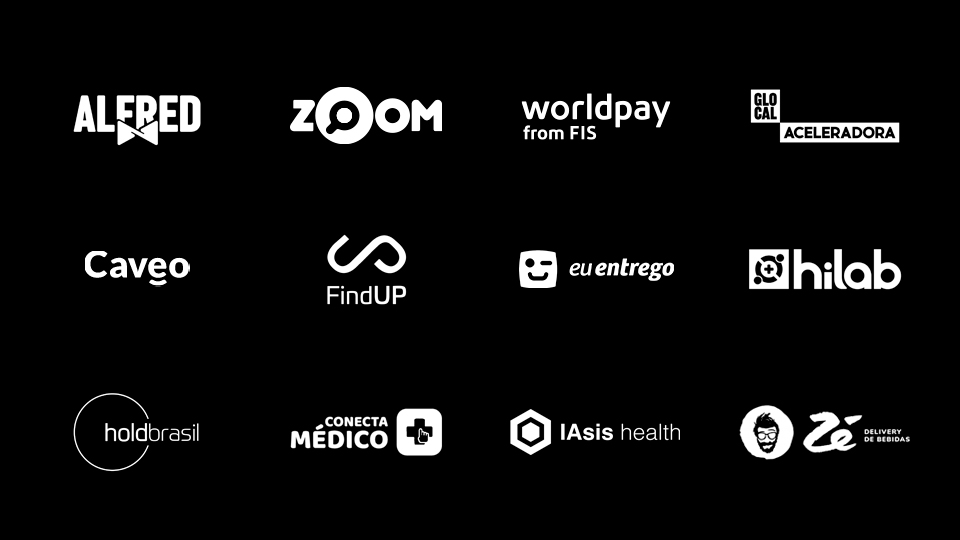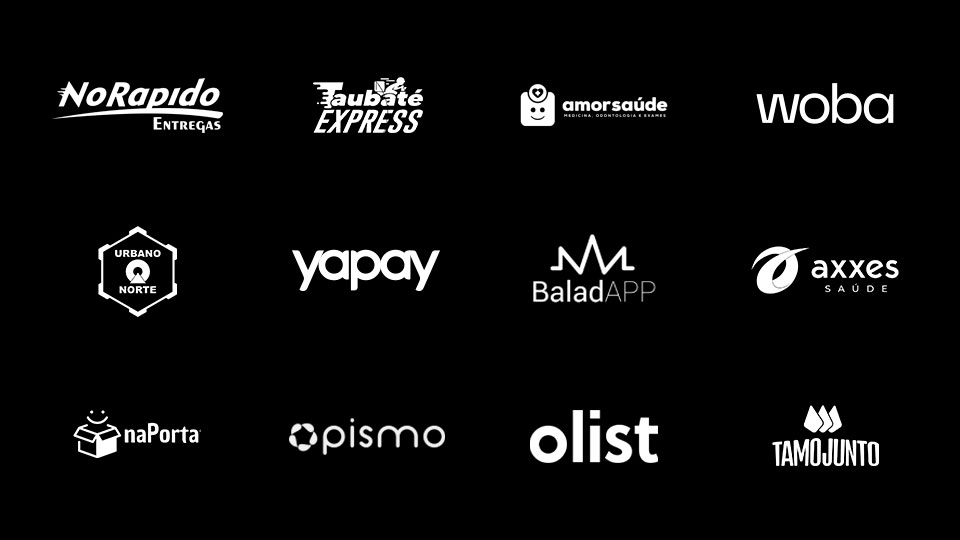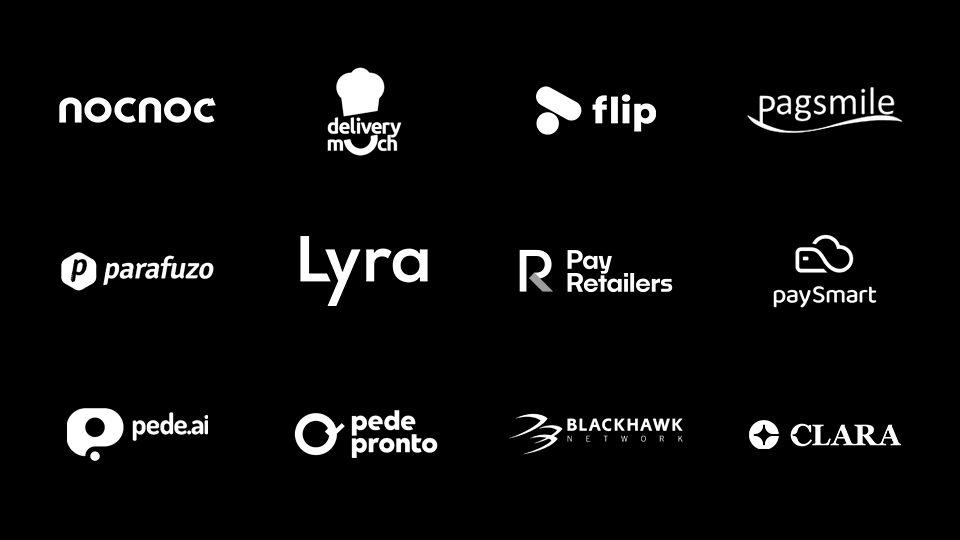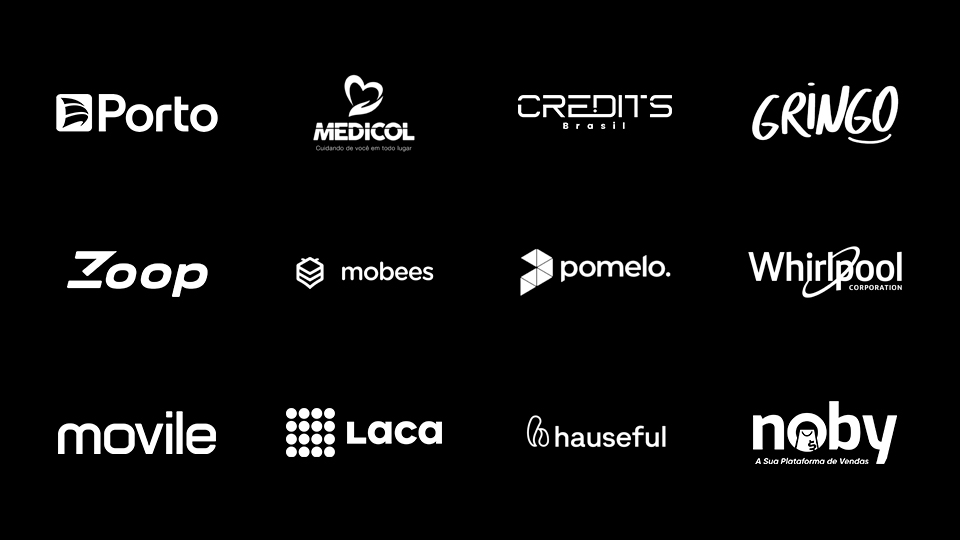A tecnologia está mudando tudo. Modelos de trabalho, formas de consumo, dinâmicas sociais — até a maneira como nos relacionamos com o tempo e com nós mesmos. Mas, em meio a tantos avanços e automações, uma pergunta segue cada vez mais urgente: o que, afinal, esperamos da liderança diante de tudo isso?
A liderança continua no centro da experiência de trabalho. E nunca foi tão desafiador — e, ao mesmo tempo, tão necessário — repensar esse papel. Porque, se de um lado buscamos eficiência, dados e performance, de outro vivemos uma crise silenciosa: o esgotamento das pessoas.
Hoje, fala-se muito em IA, produtividade e entregas. Mas pouco se fala sobre escuta real, empatia prática e a construção de ambientes psicologicamente seguros. E é nesse vácuo que temos visto a saúde mental se tornar um dos maiores desafios globais dentro das organizações.
Alguns dados ajudam a ilustrar esse cenário:
- O Brasil é o país mais ansioso do mundo, o segundo em esgotamento mental e o quarto mais estressado;
- Só em 2024, os afastamentos por transtornos mentais cresceram 67%, segundo o INSS;
- No Brasil, esse tipo de afastamento já custa mais de R$ 3 bilhões por ano à Previdência Social;
- Globalmente, os custos ultrapassam US$ 1 trilhão por ano, de acordo com a OMS.
Mesmo assim, parte significativa das lideranças ainda atua em modelo “comando e controle”. Sem espaço real para diálogo, presença ou vulnerabilidade. O resultado? Equipes desconectadas, alta rotatividade e culturas frágeis — que pouco inovam e dificilmente sustentam mudanças profundas.
E é simples de enxergar esse cenário. Veja por este ângulo:
Quem sugere ou critica com medo ou ansiedade?
Quem se sente pertencente na cultura do “manda quem pode, obedece quem tem juízo”?
Quem realmente cria ou inova estando exausto?
Quem consegue permanecer nesse tipo de ambiente por muito tempo?
Estamos diante de um ciclo de pseudoprodutividade e pseudoinovação — onde há muito ruído, mas pouco espaço para transformação real.
Mas o futuro do trabalho — e principalmente o presente que já vivemos — exige outra lógica. Uma liderança que saiba ouvir — não só o que é dito, mas o que é silenciado. Que tenha repertório emocional para conversas difíceis. Que valorize diferentes trajetórias, experiências e subjetividades. Que consiga equilibrar performance e cuidado — porque um depende do outro.
E isso não é utopia. É estratégia, necessidade e urgência.
Empresas com líderes mais empáticos, ambientes mais seguros e culturas mais inclusivas apresentam melhores indicadores de produtividade, engajamento e permanência. Segundo o Gallup, líderes influenciam até 70% do engajamento dos colaboradores. Já estudos do Great Place to Work apontam que organizações com culturas inclusivas apresentam até 50% menos rotatividade e índices significativamente superiores de inovação e desempenho — especialmente quando existe segurança psicológica como base das relações. Porque onde há confiança, há espaço para errar, ajustar e evoluir.
A segurança psicológica não é um bônus. É o que sustenta a inovação. E construir segurança exige intencionalidade.
Reuniões 1:1 que realmente sejam de escuta. Feedbacks que considerem o contexto — e não só o resultado. Acompanhamento regular, e não controle ou microgerenciamento. Presença genuína, e não apenas disponibilidade no chat ou reunião coletiva. Isso é prática. Isso é cultura.
O Fórum Econômico Mundial já aponta escuta ativa, empatia, autoconhecimento e influência social como habilidades essenciais para o futuro do trabalho — aliás, até o final desta década. A inteligência emocional passou a ser tão estratégica quanto a inteligência técnica — porque sem ela, nenhuma transformação se sustenta.
E como lembrou Brené Brown em sua palestra no SXSW 2025: “Tememos perder nossos empregos para a IA. Mas estamos perdendo por falta de gestão emocional.”
Isso nos leva a uma reflexão sensível e necessária: vamos precisar olhar para dentro, nos reconhecer — como humanos, imperfeitos e subjetivos — para conseguir enxergar o outro com essa mesma lente. O desafio agora é aprender a sentir, e desenvolver habilidades sociais e emocionais será indispensável.
Neste sentido, a legislação brasileira também começa a acompanhar essa virada. A Lei 14.831/24 e a NR-01 (com vigência em caráter educativo a partir de maio de 2025 e punitivo a partir de 2026) colocam a saúde mental como eixo regulatório, e não apenas como discurso institucional. Não à toa, a capacitação das lideranças aparece de forma recorrente e condicional nessas normas. Mas aqui cabe mais uma reflexão: de que liderança estamos falando?
Criou-se a ideia de que a liderança é a responsável por tudo — por engajar, transformar, sustentar. Mas, na prática, muitas lideranças também estão adoecidas. A liderança é um dos meios de expressão da cultura, mas não é — e nem pode ser tratada como — a cultura em si. Na maioria das vezes, ela é reflexo direto de quem tem o poder de decisão: a alta liderança e a diretoria executiva. É de lá que vêm os valores praticados, os incentivos dados, os silêncios mantidos. E aqui entra também o papel do RH, que não pode mais ser tratado como “área suporte” apartada do negócio. Precisamos mudar a base estrutural que está no topo da pirâmide. E é justamente aí que entra a intencionalidade enquanto estratégia do negócio como um todo — e não de maneira isolada. Afinal, marketing não está à parte de produto, comercial e demais áreas da unidade de negócio.
Por que gestão de pessoas estaria?
E quem seriam as lideranças, senão a própria empresa em si?
Por isso, mais do que saber usar tecnologia, precisamos reaprender a liderar com humanidade.
E talvez esse seja o maior desafio da era digital: manter relações reais em tempos cada vez mais automatizados. Criar vínculos, espaço para o erro, coragem para mudar — e ambiente para que as pessoas possam ser, antes de produzir, entregar ou escalar.
Porque, no fim, a tecnologia pode até automatizar processos, mas quem transforma realidades são as pessoas.
E não há sustentabilidade dos negócios sem a sustentabilidade humana.
E eu me lembro de um caso real que ilustra exatamente essa discussão…
Certa vez, uma pessoa líder da área de Customer Success de uma empresa de tecnologia — mulher preta, sem ensino superior e com transtorno de bipolaridade — me contou que sua equipe era composta apenas por pessoas neurodivergentes e com transtornos mentais de saúde. Não por escolha, mas justamente pela ausência dela. As outras lideranças não sabiam lidar com a multiplicidade de perfis e suas subjetividades. Por isso, sua equipe foi formada por pessoas que ninguém queria — consideradas difíceis de lidar.
Ao final daquele semestre, sua equipe ultrapassou a meta, entregando mais de R$ 20 milhões de reais em faturamento.
— Como? — perguntei.
A resposta foi simples, mas profunda:
— Praticando escuta ativa.
Fui além:
— Como isso se deu na prática?
Ela me explicou:
“Entender a complexidade e a singularidade de cada pessoa é essencial para que a gestão também seja individual. Saber quando alguém do time não está bem ou está enfrentando uma crise de ansiedade é fundamental para que possamos acolher e direcionar com responsabilidade. Às vezes, o melhor a fazer é dizer: vá para casa, descanse, se recupere e volte amanhã. Outras vezes, o melhor é simplesmente ouvir — de forma presente, consciente e genuína — o que as pessoas estão sentindo e ajudá-las a organizar suas emoções.”
Isso exige autoconhecimento. É preciso saber que somos complexos, inseguros e vulneráveis — só assim conseguimos enxergar o outro com empatia.
Esses foram alguns dos ensinamentos que tive o privilégio de aprender ao lado dessa líder inspiradora e profundamente humana.